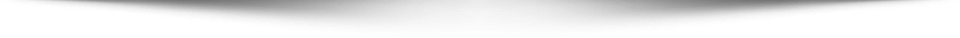“Por que repetir erros antigos, se há tantos erros novos a escolher?”
A provocação de Bertrand Russell, um dos maiores lógicos do século 20 e um dos fundadores da filosofia analítica, demonstra bem seu interesse pela vida, pela liberdade e pelo conhecimento. Em seu tratado sobre a felicidade, Russell escreveu que “uma vida boa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento”. Era 1925. Treze anos depois, em 1938, um time de pesquisadores visionários de Harvard achou por bem medir, analiticamente, a reflexão. Em suma: mensurar a felicidade usando métodos científicos. Por toda a história humana, até aquele ponto, tais questões haviam sido deixadas inteiramente aos filósofos.
E assim começou o Study of Adult Development da Escola de Medicina de Harvard, mais conhecido como o Grant Study — o mais longo estudo em desenvolvimento sobre a felicidade humana. A pesquisa, um contraponto ao modelo de medicina focado em estudar doenças, se destinava a identificar as condições que aumentam o bem-estar. Como? Seguindo as vidas de 268 alunos das classes de Harvard, entre 1939 e 1944.
Um projeto ambicioso. É difícil para a mente moderna entender o quão ousado foi para os médicos tentarem lidar com um estudo sobre ‘vida boa’ nos anos 1930. Naquela década, não sabíamos quase nada sobre genética, a saúde mental era uma preocupação secundária da profissão, e o microbioma era pura fantasia. Mas Harvard foi lá e fez. Há, é claro, limitações gritantes no estudo: os indivíduos observados eram, sobretudo, homens brancos com vida estável. Mas, ainda assim, fornecem uma visão inestimável das dimensões centrais da felicidade e da satisfação com a vida: quem vive até os noventa anos e por quê, o que prediz a auto-realização e o sucesso na carreira, como a interação da natureza e da criação molda quem nos tornamos. Neste TED, o psicólogo Robert Waldinger, de Harvard — o mais novo das quatro gerações de cientistas trabalhando no projeto — compartilha o que este estudo sem precedentes revelou, com a solidez inabalável de 75 anos de dados.
E por falar… De família aristocrática, Bertrand Russell perdeu os pais muito cedo e ingressou em 1890 na universidade de Cambridge para estudar filosofia e lógica. Em 1901 descobriu o famoso ‘paradoxo de Russell’. Em 1910 publicou o primeiro volume de sua obra Principia Matematica, que o tornou célebre. Em 1945, publicou sua extensa História da Filosofia Ocidental. Em 1950, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Também iniciou uma campanha pelo desarmamento nuclear e, em 1962, atuou como mediador na crise dos mísseis, em Cuba, ajudando a impedir a deflagração de um conflito atômico. Com Albert Einstein e outros cientistas, organizou o movimento Pugwash, contra a proliferação de armas nucleares. No final dos anos 1960 escreveu, ainda, sua autobiografia. São três volumes. E aqui um caminho mais fácil para todos seus livros.
Em tempo: Bertrand Russel foi o popularizador do trabalho de Gottlob Frege — o filósofo por trás do computador.
Desde o início de 2018, quando houve o crash do Bitcoin, que não se falava tanto em criptomoedas e a tecnologia que as sustentam, blockchain. Aconteceu em Nova York a Semana do Blockchain, em que uma série de eventos paralelos, todos dedicados à tecnologia, ocorreram espalhadas pela cidade.
Com a fuga dos especuladores, o último ano foi de muito investimento em tecnologia e infraestrutura. Quase todas as grandes corporações financeiras de Wall Street estão ativamente construindo, testando e implementando aplicações baseadas em blockchain para otimizar seus processos internos. Uma série de startups estiverem no palco apresentando ferramentas para descentralizar transações financeiras, tanto na área de custódia e transações como para gerenciar empréstimos, hipotecas e até mesmo substituir completamente o sistema bancário como o conhecemos.
Já na Colômbia, um projeto do Fórum Econômico Mundial em parceria com o BID e a Procuradoria Geral da Colômbia está desenvolvendo uma solução que usa blockchain para ajudar a reduzir desvios nas licitações de merenda escolar do país. Ao obrigar os concorrentes a assinarem contratos digitais de suas propostas, o sistema garante que nem preço oferecido, nem nenhuma cláusula, pode ser mudada de forma fraudulenta após a data de encerramento. Além disso, todos os lances e modificações das propostas são registrados de forma segura para posterior auditoria. O sistema ainda permite ainda se o contratado está entregando corretamente o que foi solicitado, criando um ranking de atendimento de cada fornecedor. O projeto ainda está na fase inicial, focada no processo de seleção de fornecedores, mas a ideia é disponibilizar, no futuro, o software para outros países da região.
Estaríamos entrando na primavera do blockchain? É o que começam a pensar alguns investidores. E os dados parecem reforçar a tendência. Depois de um longo inverno de quedas, o preço das principais criptomoedas começa a se recuperar. É recuperação lenta nos preços, mas o mercado tem negociado já o dobro do que negociava no auge da bolha de pouco mais de um ano atrás.
Criptomoedas ainda são investimentos de risco, a volatilidade é muito alta, como se viu mesmo nessa última sexta-feira, quando o Bitcoin caiu cerca de 10%, a maior queda em um dia desde o crash de janeiro de 2018.
Galeria: Cyril Ramaphosa é reconduzido ao cargo de presidente da África do Sul. A top model brasileira, Alessandra Ambrosio, brilha em Cannes. O movimento LGBT no México. A assinatura de uma lei que proíbe qualquer aborto em todo o estado do Alabama, nos EUA. E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anuncia pré-candidatura a corrida presidencial. As imagens da semana no mundo segundo os editores da CNN.
No dia 18 de maio de 1993, o Kiss lançou o álbum Alive III. Foi o terceiro ao vivo da banda de hard rock e recebeu certificado de disco de ouro, em 1994. Veja um vídeo clássico do grupo tocando I was made for lovin’you ou escute o disco completo via Spotify.
E a primeira rádio indígena online brasileira, o podcast Originárias, está disponível em nove plataformas, incluindo o Spotify e o site da Rádio Yandê, e pode ser acessado gratuitamente. O objetivo é difundir o trabalho de artistas e músicos indígenas do século 21.
Fãs de Game of Thrones, amanhã será o fim. Quem sentará no trono de ferro? Carol Moreira e Miriam Castro discutem quais pontas soltas serão respondidas no final da temporada.
O DILEMA DO DINHEIRO PÚBLICO EM CIÊNCIA, NOS EUA
Nos últimos poucos anos, um extenso debate se formou na comunidade científica americana. No centro, a diminuição dos níveis de financiamento federal da pesquisa básica. Foi em 2013 que o valor cruzou para abaixo da marca dos 50%, rompendo uma tradição estabelecida no pós-guerra. No auge, durante a década de 1960, 70% da verba para pesquisa veio de Washington. É um nível que permaneceu acima dos 60% pelos anos Reagan e Bush pai, Clinton, e só baixou daí no segundo mandato de George W. Bush.
Pesquisa básica, na definição da National Science Foundation, é aquela feita por cientistas cujo objetivo não é de presto comercial. Pesquisa aplicada, por outro lado, embora lide com ciência pura, tem por objetivo final o desenvolvimento de um produto que irá em algum momento para as prateleiras.
Há uma distorção nesta conta do percentual. Ela representa, de fato, uma queda relativa no investimento realizado pelo governo federal. Mas a queda não é tão acentuada. Porque, simultaneamente à queda real, uma indústria em particular passou a botar muito dinheiro em pesquisa básica: a farmacêutica. Avanços em genética que permitem maior compreensão dos mecanismos da vida aumentaram em muito o leque das possibilidades para remédios. A indústria compreendeu que pesquisa básica para melhorar técnicas e compreender o mundo termina, no futuro, em produtos comerciais.
Ciência e Estado
Não é um debate novo: o Estado deve financiar pesquisa básica? A convicção americana no pós-guerra foi de que sim, uma convicção marcada principalmente por duas histórias.
A primeira é a da compreensão da estrutura atômica. Só se descobriu que o átomo não era uma coisa sólida quando o neozelandês Ernest Rutherford, nos primeiros anos do século 20, percebeu que uma parte central mínima do átomo defletia com força partículas radioativas. O resto da estrutura não as defletia do mesmo jeito. Ele intuiu, ali, que o átomo não era a coisa sólida imaginada até então — no centro havia uma massa com propriedades diferentes. Trabalhando em quase paralelo, o dinamarquês Niels Bohr propôs um modelo no qual elétrons orbitariam este núcleo circulando-o com velocidade e ângulo proporcional a sua energia. Parte de sua proposta vinha da observação do comportamento de átomos de hidrogênio. Parte baseava-se num modelo teórico do que seria mecânica quântica, proposta naqueles anos pelos alemães Max Planck e Albert Einstein.
O que era uma discussão baseada em contas no papel e na observação feita com experiências hoje rudimentares, aqueles homens estavam fazendo pesquisa básica ali entre 1910 e 1920. Quando a primeira bomba atômica explodiu em Hiroshima, em agosto de 1945, todo aquele avanço teórico havia se tornado uma arma com potencial de destruição jamais visto. Entre 1954 e 56, as primeiras usinas nucleares apontaram para o possível uso pacífico da tecnologia. Nem Rutherford, nem Bohr, nem Planck ou Einstein, poderiam ter imaginado quais as aplicações da parte da natureza que começavam, ali, a compreender.
Mais distante ainda foi o trabalho do filósofo alemão Gottlob Frege, um homem que permaneceu obscuro toda vida enquanto pensava ideias que ainda hoje são de difícil acesso. Frege se propôs a demonstrar, em finais do século 19, que não havia espaço para intuição em matemática, e que toda ela deveria poder ser demonstrada por argumentos lógicos. No fundo, o que ele buscava era uma linguagem universal, uma obsessão filosófica que vinha dos gregos. Sem seus estudos, ou os de outro filósofo, o inglês George Boole, o americano Claude Shannon que era matemático, mas também engenheiro elétrico, não teria publicado sua tese de mestrado, em 1932, na qual propunha um circuito elétrico capaz de executar funções lógicas. Shannon acreditava poder facilitar, com sua máquina teórica, o trabalho de telefonistas que naqueles tempos conectavam manualmente uma linha à outra para que ligações se completassem.
As ideias de Shannon completavam às do inglês Alan Turing — e há de ter sido um encontro e tanto aquele, numa cafeteria de Washington em 1943, na qual discutindo teoria os dois matemáticos pensaram máquinas formidáveis. Foi Turing quem montou o primeiro computador, com o objetivo de quebrar a criptografia nazista.
Há muitas maneiras de contar a história da Segunda Guerra. Uma delas é de que a hostilidade racista do nazismo expulsou da Alemanha alguns dos melhores cientistas do século — entre eles o próprio Einstein, que era judeu. Calou outros, como Planck. Pois: que anos antes era ciência pura, quando aplicada venceu a guerra para os aliados. A bomba e o computador. Os aliados tinham mais cientistas — inclusive alemães.
Desta percepção derivou-se o Modelo Linear de Inovação, em geral referido pela sigla em inglês, LMI. Se inovação é um produto que tem espaço no mercado, ele nasce lá atrás de uma pesquisa sem objetivo determinado que não a busca do conhecimento puro e simples. Como os trabalhos de Einstein ou de Boole. Pesquisa básica leva a pesquisa aplicada que desova em desenvolvimento de produto — daí vem a quarta e última fase, do marketing, que literalmente quer dizer a criação de mercado para algo novo.
Esta crença, esta doutrina, esta convicção apareceu no governo Truman, marcou os anos Eisenhower e chegou ao ápice no período Kennedy e Johnson, com a NASA. Ajudar no desenvolvimento de ciência era, para aqueles presidentes, um dos principais objetivos do Estado. Só através do domínio mundial em ciência poderia haver domínio mundial em tecnologia. No mundo da Guerra Fria, ciência se tornou o determinante de poder.
Comércio e pesquisa
Esta é uma convicção que tem pai. É Vannevar Bush. (Nenhum parentesco com os presidentes.) Tendo dirigido o Comitê Nacional para Pesquisa de Defesa durante a Grande Guerra, Bush convenceu o presidente Harry Truman, através de um longo relatório, da relação entre o financiamento de ciência e os domínios tecnológico e econômico. Seu raciocínio ainda persiste, mas não é mais unânime e se concentra, politicamente, no Partido Democrata. “Descobertas em ciência básica movem a inovação comercial”, afirma o texto de abertura do Relatório Econômico para o Presidente de 2011, quando Barack Obama ocupava a Casa Branca. “Como gera pouco ou nenhum lucro, pesquisa científica básica depende pesadamente de apoio público.”
Esta semana mesmo, a maioria democrata na Câmara propôs aumentar em meio bilhão de dólares o orçamento anual da Fundação Nacional de Ciência, principal órgão financiador de pesquisa não-médica do país. O governo de Donald Trump, de sua parte, quer cortar o orçamento da NSF em um bi.
A desavença ideológica nasce da oposição entre liberais clássicos e neoliberais. O primeiro grupo abraça o argumento de Vannevar Bush. Se muito do investimento em pesquisa básica não leva necessariamente a lucros, se é quase sempre em pontos inesperados que ocorre a aplicação de novos conhecimentos, a iniciativa privada não vai investir. Porém aplicações inesperadas deste conhecimento sempre ocorrem e criam novos mercados, ampliando a riqueza da nação. A criação destes novos mercados, para depois o setor privado explorar gerando lucros e empregos, é função do Estado.
A leitura mais radical do liberalismo trazida ao governo por Ronald Reagan, porém, parte de uma desconfiança grande do papel do Estado. Considera que não é sua função, sequer, criar novos mercados. Que a ausência do Estado promoverá melhores resultados, se à iniciativa privada for permitido operar livremente.
O conflito político está aberto. Ao tentar diminuir o orçamento para pesquisa, a mensagem do governo Trump para os cientistas é simples: busque novas fontes de financiamento. Principalmente na indústria.
A crítica a este modelo parte de duas premissas. A primeira, de que a indústria financiará pesquisas que estão diretamente relacionadas a seus objetivos comerciais. Quem, afinal, financiaria um filósofo alemão do século 19 em busca de enxergar a matemática como uma linguagem universal? Ou um químico neozelandês tentando bombardear átomos com partículas radioativas? A segunda crítica é mais objetiva. Se pretende vender uma determinada droga na qual investiu muito, os estudos bancados pela indústria farmacêutica serão construídos de forma a sustentar o discurso de que o remédio é seguro. Há um viés inevitável. Não se trata, dizem os críticos, de abrir mão de dinheiro privado. Apenas de não depender apenas dele.
Durante quase toda a década de 1980, Washington aplicou algo como 1,2% do PIB americano em pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento de produtos. R&D — sigla em inglês para pesquisa e desenvolvimento. Em 2010, 1% do PIB era investido. De 2013 para cá caiu para 0,8%. Mas o PIB americano, em 1985, era de US$ 4,3 trilhões. Em 2017, US$ 19,4 tri, números do Banco Mundial. Em números absolutos, mesmo que se corrija pela inflação, o valor saltou. Mas, a longo prazo, defendem muitos, é um espaço que os EUA perderão. Um no qual a China vem investindo cada vez mais.
Leia: De Aristóteles a Shannon e Turing, uma história científica do computador. (The Atlantic)
Assista: Num vídeo curto, o MIT celebra Vannevar Bush, pai do investimento em ciência — e também o homem que imaginou primeiro a internet.
Cinema: Com Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, O Jogo da Imitação(trailer) contou, em 2014, a história de Alan Turing e seu primeiro computador. Com Benedict Cumberbatch e Keira Knightley.
Investimento em pesquisa toma muitas formas. Uma delas é o investimento em universidades — afinal, muitos dos pesquisadores são também professores e se sustentam com salários pagos por estas instituições. Uma crítica comum ao modelo brasileiro de universidade pública é de que, ora, nos EUA as melhores escolas são privadas. Esta é uma meia verdade. Universidades de ponta como Harvard e Stanford, MIT ou Yale ou Princeton, são organizações sem fins lucrativos. Não têm dono, operam como fundações que gerenciam um fundo composto por doações privadas ou fontes públicas diversas. Só em renúncia fiscal, impostos que o governo escolhe não recolher, Stanford recebe anualmente US$ 63 mil por aluno. Ali ao lado, a excelente universidade pública de Berkeley recebe do governo da Califórnia um subsídio de US$ 10 mil por aluno. Em Princeton, o total de benefícios federais e estaduais somam US$ 105 mil por aluno, contra US$ 12 mil recebidos por Rutgers, a excelente universidade pública do mesmo estado, Nova Jersey. Os números não incluem receitas para projetos específicos de pesquisa. (Washington Post)
POR FIM, O QUE NOSSOS LEITORES MAIS CLICARAM NESSA SEMANA:
1. BBC Brasil: O que é verdade, e o que não é, a respeito do que o governo chamou de cortes e agora chama de contingenciamento.
2. Guardian: O melhor do Photo London 2019.
3. G1: Galeria de fotos das manifestações pela educação dessa semana.
4. PDN Online: A fotógrafa subaquática Jennifer Adler usa as imagens capturadas no fundo do mar para conscientizar crianças sobre valor e respeito ao meio ambiente.
Fonte: @Meio