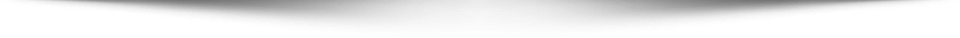Classe média, recessão democrática e povo na rua
Ontem, sexta-feira dia 25 de outubro, foi um dia histórico para o Chile. Um milhão e duzentas mil pessoas se reuniram na Praça Itália, coração da capital Santiago. A maior multidão já reunida em protesto na história do país. Se no início o presidente Sebastián Piñera respondeu com Estado de Emergência e Exército nas ruas, em dias mudou o tom. “A multidão alegre e pacífica que marcha hoje”, escreveu em sua conta no Twitter, “pede um Chile mais justo e solidário, abre grandes caminhos de futuro e esperança. Todos escutamos a mensagem.” Mas não foi só o Chile. Neste outubro, houve protestos importantes em Hong Kong, no Líbano, em Barcelona, no Equador. Numa escala maior de tempo, desde 2009 o número anual de protestos relevantes explodiu para repetir uma onda de manifestações populares que só houve na década de 1960.
Por conta das manifestações dos coletes amarelos na França, em dezembro de 2018 trouxemos o foco para o trabalho do economista britânico Guy Standing, que observou a formação de um novo grupo no mundo. O precariado, conforme ele batizou. Aquelas pessoas mais tocadas pelas transformações digitais da economia, que embora consigam se manter trabalhando, perderam parcial ou completamente qualquer malha de proteção social. A vida de insegurança e precariedade deste grupo é um dos motivadores dos protestos.
Mas o problema não é um que se encerre numa só explicação. Até porque cientistas sociais vêm se debruçando sobre a questão e o debate está longe de definido. Professora de Harvard, dedicada nos últimos anos ao estudo destes protestos, Erica Chenoweth observa que há outra transformação em curso. Há vinte anos, numa tendência que vinha crescendo desde o fim da Segunda Guerra, grandes protestos conquistavam seus objetivos em 70% dos casos. As redes sociais tornaram mais fácil agrupar gente nas ruas, Chenoweth observa. Mas justamente porque é mais fácil agrupar, isto quer dizer que o comprometimento das pessoas com as causas pelas quais gritam é menor. A consequência são resultados práticos: despencou a margem de sucesso na conquista do que se pleiteia. Hoje, a taxa média de sucesso das grandes manifestações está em 30%.
Trata-se de um jogo de números e proporção. Justamente porque ficou mais fácil levar multidões às ruas, o percentual da população que é preciso mobilizar para produzir mudanças reais, em média, tem sido de 3,5%. Quem leva essa quantidade para as ruas, em geral, consegue o que busca. (Não foi o caso chileno: 1,2 milhão representa pouco menos de 1% da população. Mas a média tampouco é uma regra escrita em pedra.)
Chile e Equador, Barcelona e Líbano, Hong Kong. A busca pelo que têm em comum não é simples. São locais muito diferentes, sociedades distintas, com graus de liberdade, nível econômico e culturas que variam muito. Mas há dois traços que, em maior ou menor proporção, estão presentes em quase todos. O primeiro é uma lógica de política econômica que predominou nas últimas décadas e que impôs sacrifícios às classes médias. O segundo é a crise mundial pela qual atravessa a democracia. E são dois traços que se tocam.
A crise da classe média
Viralizou faz alguns anos em vídeo o trecho de um debate no qual a professora Marilena Chauí, da FFLCH-USP, bradava com verve e gosto contra a classe média. “Eu odeio a classe média”, ela afirmou. “A classe média é o atraso, a classe média é a estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista, é uma coisa fora do comum, a classe média.” Sob aplausos, tratava-se de um seminário para debater as políticas econômicas dos governos Lula e Dilma, ela seguiu. “Porque os trabalhadores brasileiros conquistaram direitos após vinte anos de luta, fora os quinhentos anteriores de desespero, e dizer que estes vinte anos fizeram a gente virar classe média? De jeito nenhum. Porque a classe média é uma abominação política, porque ela é fascista, é uma abominação ética, porque é violenta, e é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante.”
Desconte-se a verve — é fundamental dar um desconto no tom de um discurso político para uma plateia simpática. Em seu livro mais recente, ainda não lançado no Brasil, o economista Thomas Piketty questiona a essência da visão de Chauí. E este é um debate importante, pois após o lançamento de seu calhamaço O Capital no Século XXXI (Amazon), Piketty se tornou talvez o mais importante crítico daquilo que se convencionou chamar política econômica neoliberal. É, portanto, um dos principais teóricos da esquerda contemporânea. Mas em Capital e Ideologia, que sairá no ano que vem, o francês observa que o grupo social que foi mais precarizado pelas políticas das últimas duas décadas foi justamente a classe média. E um dos países sobre os quais concentra seu foco é, justamente, o Brasil.
De acordo com a análise de números brasileiros feita por Piketty, a transferência de renda que ocorreu no país para tirar um número ímpar de pessoas da pobreza veio não dos mais ricos, mas da classe média. Para ser mais exato: quem financiou as políticas de transferência de renda que tiveram real impacto no Brasil foram aqueles com renda acima dos 50% mais pobres e abaixo dos 10% mais ricos. E o que explica isso é a distribuição da carga tributária.
O grosso dos impostos brasileiros se concentram no consumo e não sobre renda ou patrimônio. Ou seja: quem gasta em produtos boa parte do que ganha paga um percentual alto de imposto. Quem acumula paga impostos baixos. Como a classe média tem pouca base para poupança, ela termina sendo quem deixa um percentual maior de sua renda com o Estado. E o dinheiro que o governo acumula e investe em políticas de distribuição vem destas tarifas. Quando se foca nos 1% mais ricos da população, entre 2002 e 2015 suas fortunas aumentaram. Quem está abaixo dos 50% também melhorou de vida — embora ela siga dura.
Mas a classe média perdeu. Efetivamente.
O fenômeno não tem nada de brasileiro. A mesma política econômica foi aplicada mundialmente. A lógica foi, neste período, garantir crescimento econômico constante. A taxa anual do PIB foi o foco de economistas, políticos e jornalistas, na crença de que puxando para cima a atividade econômica e focando no combate à pobreza se encontraria equilíbrio. No Chile, embora os contrastes sejam menores, o mesmo se deu. E esta não é uma característica de governos de esquerda — lá, onde por conta de uma democracia mais madura políticas de Estado foram seguidas de governo em governo independentemente de que lado do espectro estava no poder, é mais nítido.
No Chile, a renda per capita é quase o dobro da média da América Latina. A esperança de vida encosta nos 80 anos, contra 75 da média latino-americana. Uma proporção menor de chilenos vive em favelas do que ocorre em todos os vizinhos. É a menor taxa de homicídios do continente. Este ano, o país crescerá entre 2 e 3% seu PIB. A distribuição de renda não é ideal — mas está longe de ser um desastre. Argentina e Peru têm números melhores. Brasil, Colômbia e México, piores.
Mas se há um grupo que sentiu piora de vida nos últimos anos foi a classe média. Isto se reflete no valor do seguro de saúde, do transporte, do aluguel. Um dos maiores dramas dos estudantes de Hong Kong é o valor da moradia. No Líbano, aumentos na conta de energia e um imposto sobre ligações via WhatsApp estão entre os pavios dos protestos.
Com a exceção equatoriana, em comum os protestos partem das classes médias. São as principais vítimas das medidas de austeridade.
O drama democrático
Mas há, também, a crise da democracia. Embora padrões eleitorais apontem para a seleção de governos populistas e autoritários, o que muitos dos protestos acusam é uma crise de representatividade.
Em Hong Kong, os protestos nasceram de uma nova lei que permite a extradição para a China continental, para que sejam julgados lá, pessoas que de alguma forma tenham sejam suspeitas de determinados crimes. Em Barcelona, a crise começou quando a Justiça espanhola condenou a pesadas penas os nove líderes catalães que tentaram declarar a independência da província há dois anos. Diferentemente dos bascos, os independentistas catalães sempre se orgulharam de protestar pacificamente, no jogo político. O cerceamento, pelo governo central, da autonomia da província vem atiçando os ânimos. No Líbano há uma sensação generalizada de que a elite política é corrupta e que muito da crise do país se deve à má gestão da coisa pública. No Chile, enquanto os protestos esquentavam, o presidente jantava com a família num restaurante luxuoso como se nada estivesse ocorrendo.
Enquanto nas redes sociais há um clima de constante indignação, a sensação é de que as elites políticas nada percebem.
“A fonte de violência pontual é a frustração política de toda uma geração se sente traída não só pelo Estado espanhol, mas pelos próprios dirigentes independentistas que os lançaram às ruas”, escreve na edição de hoje do La Vanguardia o sociólogo catalão Manuel Castells. “O mais grave é, como escreveu recentemente o semanário alemão Stern, a incapacidade congênita dos políticos espanhóis de negociar. Não se investe no governo para encontrar fórmulas de solução para um conflito que afeta fundamentalmente a convivência no país. Sem negociação, o Estado de Direito se reduz ao direito do Estado.”
Castells escreve sobre Barcelona. Poderia estar descrevendo a sensação de quem protesta em qualquer outro dos focos do mundo. O de que há um debate intenso ocorrendo nas redes que, nos governos, não encontra qualquer eco.
“Ninguém está sendo propelido pela insanidade das multidões”, afirma Michael Ingatieff, da Universidade Centro Europeia. “O que está acontecendo é política. Tem causas específicas e questões específicas. Se você não reconhece isso, faz com que política popular pareça uma moda passageira. Não é.”
A mudança da base tecnológica está transformando a democracia. As elites políticas ainda não aprenderam como ouvir.
No século 18, as Revoluções Liberais partiram do princípio de que era urgente encontrar um equilíbrio entre liberdade individual e igualdade de oportunidades. Os americanos que fundaram a primeira República chamaram seu sistema de governo de ‘o grande experimento’. Os franceses que derrubaram a Bastilha cantavam no hino Ça Ira que ‘quando o aristocrata protesta, o cidadão ri em sua face’.
No século 21, retornamos ao mesmo dilema.
Enquanto a novela do Brexit não chega a seu capítulo final, o New York Times resolveu inovar. Mandou para Londres um ilustrador. Sua missão: explicar essa pitoresca confusão em formato de quadrinhos.
Para Leonardo da Vinci, um bom artista deveria entender melhor as condições da natureza. Ele inventou a técnica baseada na mistura de formas por meio de contornos embaraçados e cores suaves; o que os italianos chamaram de “sfumato”. E elaborou projetos de mecânica, música, cosmologia, geologia e hidráulica, produzindo diversos estudos nas áreas de anatomia humana, matemática, engenharia e arquitetura. Leonardo da Vinci anotava tudo em seus cadernos. E detalhe: aprendeu a escrever da direita para a esquerda para que suas anotações só pudessem ser lidas quando refletidas no espelho – era canhoto. Por volta de 1960, incontáveis páginas foram encontradas contendo rascunhos, planos, desenhos, pensamentos, desenhos e reflexões. Em uma delas, Leonardo registrou os espelhos côncavos que refletiam raios de luz a partir de diversos ângulos. Em outra, estava um dos famosos desenhos encontrados nos cadernos O homem Vitruviano, datado de 1490. Leonardo criou duas das mais famosas obras de arte de todos os tempos, A Última Ceia e Mona Lisa, mas se considerava apenas um homem da ciência e da tecnologia — curiosamente, uma de suas maiores ambições era ser reconhecido como engenheiro militar. Para muitos, o maior dos gênios que já existiu.
Com base em milhares dessas páginas que Leonardo manteve, Walter Isaacson, biógrafo de Einstein e Steve Jobs, tece uma narrativa que conecta arte e ciência, revelando faces inéditas da sua história. Desfazendo-se da aura de super-humano muitas vezes atribuída ao artista, Isaacson mostra que a genialidade de Leonardo estava fundamentada em características bastante palpáveis, como a curiosidade, uma enorme capacidade de observação e uma imaginação tão fértil que flertava com a fantasia. O nome da biografia é, simplesmente, Leonardo da Vinci. (Amazon)
A mostra Leonardo da Vinci 1452-1519, em exposição no Louvre, em Paris, é resultado de um esforço multinacional que entrará para a história. É a primeira vez que um museu reúne tantas obras-primas do maior e do mais famoso pintor da humanidade: 160, entre quadros, desenhos, esboços e páginas dos cadernos de Da Vinci. É algo único. A mostra começou a ser planejada há dez anos, porém até os 45 minutos do segundo tempo pairavam dúvidas sobre o empréstimo de obras. O Louvre precisou ter muita fé. Só um artista do porte de Da Vinci seria capaz de reavivar velhas rivalidades culturais, como se deu na hora de requisitar obras de museus da terra do pintor, a Itália. A coalizão populista que governou o país até meses atrás chegou a acusar a França de querer se servir de seus tesouros “como num supermercado”. Em um primeiro momento, a Justiça italiana vetou a ida do Homem Vitruviano, desenho que sintetiza a união entre arte e ciência. Mas a decisão foi revertida: o Homem Vitruviano viajou para o Louvre. Conflitos pequenos para o tamanho do seu legado…
Enquanto uma série de unicórnios sofre para fazer a transição dos mercados privados para mercado aberto, a Tesla parece estar deixando a maré de más notícias para trás. A empresa surpreendeu os investidores essa semana, apresentando um inesperado lucro de US$ 1,86 por ação no terceiro trimestre, bateu recorde com 97 mil carros entregues para seus compradores, sendo quase 80 mil do novo Model 3 e o resto do Model S, seu sedan de luxo. O faturamento veio um pouco abaixo do esperado, mas o corte nas despesas foi grande o suficiente para gerar lucro. O CEO, Elon Musk, anunciou que sua fábrica na China já opera em testes e deve começar a produzir em volume nos próximos meses. A fábrica vai servir para a empresa entrar no mercado chinês com o Model 3 e também como plataforma de exportação para outros países. Musk anunciou ainda que está em fase final de definir a localização de uma fábrica na Europa.
As ações dispararam após o anúncio, fazendo com que a Tesla ultrapassasse a GM como montadora mais valiosa do mundo. Os investidores que estavam apostando na queda das ações da empresa perderam US$ 1.5 bilhões em um único dia.
Para quem gosta de planilhas: Vale ver os slides da apresentação de resultados. Que também contam com algumas fotos das fábricas para os avessos aos números.
Clima bom demais para a playlist de sábado…Reconhecido como um dos grandes compositores brasileiros, Jorge Aragão não lançava um nova canção há 12 anos. Até ontem. O sambista rompeu o silêncio com A Possibilidade, um samba romântico com sua assinatura e identidade. Aragão está comemorando 70 anos com uma turnê nacional, intitulada Jorge70.
Quarenta festivais de música, dentre os maiores do mundo, assinaram um compromisso de não usar tecnologia de reconhecimento facial durante os eventos. Dentre os signatários estão Lollapalooza, Coachella, SXSW e Burning Man. O Rock in Rio não assinou o compromisso. Tanto artistas quanto fãs ativistas começaram, em setembro, uma campanha prometendo boicote aos eventos que documentarem quem está presente e o que faz a cada segundo. Afinal, é disto que se trata a tecnologia.
POLÍTICA MARCOU UMA PRESENÇA FORTE ENTRE OS LINKS MAIS CLICADOS POR NOSSOS LEITORES ESSA SEMANA:
1. G1: Fenômeno raro, uma nuvem rolo chama atenção em Ourinhos, no interior de SP. Com vídeo.
2. Folha: Salles usa vídeo editado para criticar Greenpeace e discute com políticos
3. G1: Fotos dos protestos em Santiago, no Chile.
4. El País: Uma viagem pelas paisagens da Noruega, que inspiraram o reino gelado de Frozen.
5. Youtube: Em uma pequena cidade na Virginia, as primeiras entregas feitas por drone.
Fonte: @Meio