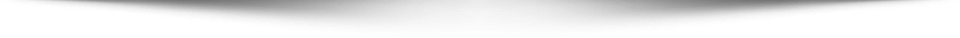A primeira newsletter publicada
DDN News talvez tenha sido a primeira newsletter publicada no que viria a ser a Internet. Sua primeira edição: 1º de julho de 1980, na Arpanet, a rede anterior à que hoje suamos, desenvolvida pelo Departamento de Defesa norte-americano. Naquela primeira edição, enviada para os gestores de cada um dos nós da rede, a newsletter saiu com um curto editorial escrito pelo Major Joseph Haughney, da DCA, Agência de Defesa das Comunicações
Major Joseph Haughney: “A Arpanet vai passar por uma série de grandes mudanças nos próximos anos que deverão ter impacto considerável em nossa comunidade. Vocês, como representantes, são nosso principal ponto de contato com os usuários, e a DCA acredita que é uma boa ideia manter os representantes melhor informados sobre as ações que irão afetar seus usuários nos próximos anos. Para alcançar estes objetivos, a DCA irá publicar uma newsletter sobre a rede que irá prover informações técnicas e de alinhamento. Essa mensagem é a primeira edição da newsletter. Edições futuras serão disponibilizadas através da Arpanet na medida em que se tornem necessárias. Solicitamos empenho de todos na disseminação das informações contidas nestas newsletters de forma ampla para seus usuários.”
Mal sabia o Major que as mudanças que estavam por vir iriam durar algumas décadas e impactar de forma tão profunda a humanidade.
Com 12 anos de idade, Louis Armstrong foi preso num Réveillon por dar um tiro para o alto. Foi mandado para um reformatório para jovens negros, onde aprendeu a tocar a corneta, e fez uma série de apresentações com a banda do lugar. Foi solto dois anos depois, em 1915, e aí se sustentou com uma série de pequenos trabalhos enquanto tentava decolar sua carreira de músico. Entre eles foi por um tempo jornaleiro, vendendo jornais pelas ruas da cidade.
Recentemente, James Karst, um jornalista especializado em Jazz, esbarrou com um curto vídeo de 8 segundos com pessoas andando pelas ruas de Nova Orleans em 1915. Em certo momento, um garoto negro, vendendo jornais, atravessa a tela e parece ser a única pessoa a perceber a câmera filmando. Karst achou o garoto parecido com fotos de Armstrong quando jovem e começou a investigar para tentar confirmar. Primeiro consultou Dan Morgenstein, ex-editor da revista Downbeat, e que foi amigo pessoal de Armstrong por mais de 20 anos. Ele confirma: “Louis tinha uma espécie de aura especial no entorno dele, e pelo que eu posso ver, essa aura está nesse garoto.” Kurt Luther, professor de ciência da computação da Virginia Tech, e que desenvolve uma linha de pesquisa que busca identificar pessoas em fotos da época da Guerra Civil americana, comparou um frame do vídeo com uma foto de Armstrong de 1920 e afirma que as distâncias entre os olhos e o nariz, e entre o nariz e a boca, são idênticas em ambas as imagens. Ricky Riccardi, arquivista do museu Casa de Louis Armstrong, em Nova York, também acha que é o músico no vídeo. Karst foi além, buscou os dados dos censos. Em 1910 apenas 48 pessoas foram registradas como jornaleiros em Nova Orleans, sendo apenas 4 deles negros. Em 1920 haviam 44 jornaleiros, 5 deles negros. Não temos como ter certeza se é mesmo Armstrong no vídeo, mas tudo indica que parece sim ser ele.
Assista: Satchmo tocando When the Saints go Marching In.
Uma regra da fotografia de rua é “não fotografe os sem-teto”. As fotos de Heloisa Lodder andam nessa linha, mas com uma outra perspectiva: chamar a atenção para o sofrimento dessas pessoas encorajando os espectadores a reconhecer sua humanidade. A série Studies on the Dignity of the Human Person mostra os sem-teto de São Paulo, individualmente isolados das ruas e sobrepostos em fundos pretos, como se estivessem flutuando no espaço. Lodder está na lista de fotógrafos que estão reescrevendo as rígidas leis da fotografia de rua, segundo a Vice.
Uma Frida Kahlo gigante. Wimbledon. Flamingos. Corrida com touros. A estátua de Melania Trump. Uma corrida de homens-aranha. Veja algumas imagens que marcaram a semana no mundo.
AS MUITAS FACES DE EUCLIDES E DE CANUDOS
Ao chegar ao interior da Bahia, onde ficava Canudos, o jornalista Euclides da Cunha traçou uma visão etnográfica do local e das pessoas, da época, dos hábitos e costumes. Porém procurou aprofundar seu olhar com uma visão sobre o Brasil a ponto de a reportagem que escrevia transformar-se num romance social. 150 anos depois do nascimento do autor, muito ainda se escreve sobre ele. “É o maior mea culpa da literatura brasileira. O livro não foi só fruto de uma autocrítica pessoal: ali, o Brasil começou a entender a gravidade do que ocorrera em Canudos, longe do fantasma das conspirações monarquistas”, explica a crítica literária e professora da USP Walnice Nogueira Galvão, organizadora da nova edição crítica do livro Os Sertões, editada pela Ubu e pelo Sesc. Euclides estava em Canudos quando começou a se preparar a expedição final, com cinco generais. Diante dos olhos deles, quase todos os habitantes ali foram liquidados — todos os prisioneiros da guerra foram degolados na frente das altas patentes, o arraial foi queimado e explodido. A batalha mostrava a sua verdadeira face, a de um massacre. Sobretudo naturalista e positivista, o autor foi rejeitado pelo modernismo por conta da retórica do excesso. Se, por um lado, o naturalismo igualmente já dera seus melhores frutos, por outro lado os primeiros sinais do modernismo, que faria sua rumorosa aparição em cena na Semana de Arte Moderna de 1922, não chegariam a alcançar Euclides em vida. Por tudo isso, costuma-se colocar Euclides no pré-modernismo, sem dúvida na falta de melhor categoria. Nas notas da última edição, Walnice ressalta que não se deve perder de vista que se trata do livro de um militar por formação, o que é fundamental para entender tanto as origens das preocupações de Euclides quanto a reviravolta de consciência causada pela Guerra de Canudos. O fato de Euclides ter feito seus estudos completos na Escola Militar do Rio de Janeiro pesa em seus escritos. Era uma escola de ponta que, produzindo vanguardas, constituiria um foco modernizador e teria atuação marcante na política brasileira, sobretudo na década em parte da qual Euclides foi aluno. Ele logo se licenciou do Exército, para nunca mais retornar, e se sentia muito pouco à vontade na farda, como mostram suas cartas a amigos e familiares no período de decisão. A série de reportagens para a qual foi contratado nem de longe dá ideia do que o autor acabaria vendo. Ao mandar os primeiros relatos, Euclides, como todo mundo, inclusive os correspondentes de guerra dos outros periódicos, está convicto de que a República se encontra em perigo. Os canudenses seriam contrarrevolucionários que visavam derrubar a República. Documentos da imprensa da época mostram que foi uma reação desmedida que representou Canudos como o foco de uma contrarrevolução monarquista internacional, com sede em Nova York, Paris e Buenos Aires. Mas, à medida que a série avança, o autor torna-se mais reticente, menos ardoroso no entusiasmo republicano. E, mais curioso ainda, nunca foi publicada, nunca apareceu e nunca se apurou se afinal foi ou não escrita a reportagem que relataria os últimos dias da guerra e a chacina da vitória. A série terminou incompleta.
Euclides levou cinco anos para elaborar o volume de mais de seiscentas páginas. Para além do massacre, estão ali extensos estudos de história de Portugal e do Brasil, sobretudo no que diz respeito à colonização e ao povoamento. Concorrem igualmente noções de antropologia, de sociologia, de folclore, de religião e de psicologia social, esta última com ênfase no que os cientistas sociais do século XIX chamavam de comportamento anormal das multidões, preocupados como andavam com movimentos populares. “Assim considerado, o livro aparece como uma formidável enciclopédia em que teorias sobre as causas das secas que assolam o Nordeste ombreiam com interpretações psicocriminais da instabilidade nervosa dos mestiços, e a crítica às táticas desenvolvidas pelo Exército com análises de preceitos religiosos”, descreve Galvão. No fundo, é uma narrativa da Guerra de Canudos, provinda de um movimento messianista sertanejo confrontado pelas Forças Armadas, escrita com inúmeras reflexões sobre todas aquelas áreas do conhecimento. Uma construção decididamente determinista, com uma primeira parte intitulada A terra, uma segunda intitulada O homem e uma terceira, mais longa e com subdivisões, chamada A luta – preliminares. A síntese é impossível: a verdade do livro está em suas contradições e as duas leituras são possíveis, só que ambas coexistem servindo ao mesmo princípio de construção literária. E é este ângulo distorcido, a dificuldade em precisar qual é, afinal, a teoria ou a opinião, os paralelos entre os dois lados, o fanatismo, o misticismo, as referências religiosas, o jornalismo como literatura, que tornam, também, Os Sertões uma obra atemporal. E Euclides mais moderno do que nunca.
O escritor e crítico literário Tristão de Alencar Araripe Júnior, confessa que percorreu as primeiras páginas de Os Sertões com espírito de hostilidade. “Na memória, entretanto, ainda perdura um tumulto horrendo. O ressaibo como de um indizível pesadelo sentou-se no centro da imaginação e continua a dominá-la”, escreveu em 1903. Ao final, reconhece que “criticar esse trabalho não é mais possível”. Para Silvio Romero, um dos pioneiros de crítica literária brasileira, Euclides tinha “esse não sei quê de apaixonado e sentido em que se vaza a alma do povo” que faltava a outros escritores que exerceram carreiras diplomáticas à época. “O que mais despertou, para logo, a atenção dos leitores foi o estilo imaginoso, brilhante, marchetado de metáforas do escritor, além do assunto, que parecia longínquo, exótico, inesperado à grande maioria dum público sofrivelmente ignorante, como o do Rio de Janeiro e do Brasil em geral”. Na perspectiva de Gilberto Freyre, Euclides atingiu a qualidade literária da revelação — a capacidade de surpreender no Brasil de sua época ao revelar a pluralidade de tempos brasileiros. Colegas na Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis e Euclides foram participantes da cena literária simultaneamente pelo menos por uma década, como mostram as cartas que trocaram. E viriam a morrer com pequeno intervalo — Machado aos 69 anos, em 1908; Euclides aos 43, em 1909. Ainda assim, não se podem imaginar obras mais diferentes. As comparações também não escaparam a Freyre. “Era o tempo em que o velho Machado, escondendo-se por trás de personagens sempre brancos, ioiôs sempre finos, se fazia adivinhar no humor dos seus romances – talvez os mais profundos que já se escreveram na língua portuguesa – quase um inglês tristonho desgarrado nos trópicos, embora resignado à doçura da vida suburbana de chá com torrada, partidas de gamão e modinhas ao piano, nos sobrados velhos e nas chácaras cheias de escravos e de árvores do Rio de Janeiro de dom Pedro II. O Euclides que em 1897 se defrontava com os sertões era ainda um adolescente no incompleto da personalidade, no indeciso das atitudes. Um adolescente que vinha do litoral e de sua civilização, cheio de mãos esquerdas diante dos homens já feitos e das cidades já maduras da beira do Atlântico. Precisando do ermo para sentir-se à vontade. Precisando do deserto para acabar de formar-se no meio do inacabado da colonização pastoril, sem se sentir olhado, observado ou criticado pelos escritores convencionais do Rio de Janeiro”. No livro Vida, Forma e Cor, Freyre menciona também sobre as as dificuldades que Euclides encontrava no ato de escrever e reforça o “caráter pensado” de todos os seus registros, inclusive dos seus bilhetes e cartas íntimas, a seriedade que emprestava à atividade intelectual. O contraponto que faz a esse perfil do intelectual rigoroso e sistemático é Lima Barreto. Se Euclides primava pela disciplina e rigor, Lima Barreto, ao contrário, era capaz de observar agudamente o mundo à sua volta, sem, no entanto, conseguir organizar as suas impressões. Um estilo “esplendidamente barroco”, que não chegou a agradar todos. “Em uma palavra, o maior defeito do seu estilo e da sua linguagem é a falta de simplicidade; ora, a simplicidade que não exclui a força, a eloquência, a comoção, é a principal virtude de qualquer estilo”, observou o escritor José Veríssimo. Para alguns críticos, um estilo declamatório, pedante, convulso, kitsh — Theodor Adorno e Hermann Broch foram alguns dos teóricos que mais contribuíram para disseminar o conceito contrapondo-o às obras moderna e de vanguarda.
Entre 1903 e 2019, a visão sobre Euclides não mudou. “Está muito além do kitsch”, avalia Sergio Rodrigues em artigo publicado na Folha, porque espelha, de forma apinhada de paradoxos e notas estridentes, os conflitos violentos de um espetáculo que por aqui nunca sai de cartaz: o do intercâmbio de posições entre civilização e barbárie. Rodrigues observa que Os Sertões, “apesar de sua estranheza e dificuldade”, exerceu sobre escritores de diversos países uma influência que Machado de Assis nunca teve. “Sua originalidade é mais ostensiva.”
Um dos maiores expoentes da literatura brasileira, Euclides da Cunha é o homenageado da Flip 2019, mas a homenagem é motivo de aflição para a escritora Dirce de Assis Cavalcanti, 87 anos. Ela é filha de Dilermando de Assis — que entrou para a história como o homem que matou Euclides da Cunha. “Porque sei que vão falar muito no papai, e falar mal, certamente, porque muita gente não conhece a história como foi”, desabafou em entrevista à BBC Brasil. Dilermando foi amante de Ana Emília Ribeiro da Cunha, a mulher de Euclides. O caso começou em 1905, durante uma longa expedição do escritor pela Amazônia, chefiando a comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus, na fronteira entre os dois países. Ana, de 33 anos, era mãe de três filhos de Euclides quando se apaixonou por Dilermando, um jovem cadete de 17 anos. Viveram quatro anos de romance proibido e tiveram dois filhos fora do casamento. No dia 15 de agosto de 1909, Euclides chegou armado à casa de Dilermando para “vingar sua honra”. Dilermando foi atingido cinco vezes, mas revidou. Era capitão de tiro. Euclides morreu. Já Dilermando, absolvido por legítima defesa, foi condenado pela imprensa da época e pela opinião pública. O caso se desdobrou em novas tragédias, com as mortes posteriores de Euclides da Cunha Filho e do irmão de Dilermando, Dinorah de Assis. A família lida com o estigma até hoje.
O termo foi pinçado pelo historiador José Murilo de Carvalho e fala muito sobre o que foi a Primeira República, aquele período entre 1889 e 1930. “O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava”, escreveu o jornalista e depois político Aristides Lobo, num artigo que descrevia a proclamação do novo regime pelo marechal Deodoro da Fonseca. Os Bestializados (Amazon) tornou-se pois o título de um livro clássico de Murilo que trata, entre outras, de como a elite política brasileira, naqueles anos, não se reconhecia no povo, que considerava alheio às questões do país. Este povo incompreendido de fato esteve descolado do Estado brasileiro por todo o Império. Não votava, não havia lá muitas políticas sociais. Tanto a economia quanto o Estado, antes da República, eram controlados por uma elite que incluía senhores de terra, grandes comerciantes e grandes traficantes de escravos. Nunca o Estado foi tão patrimonialista quanto neste período — ser funcionário público, e eles eram poucos, era em essência estar ligado por laços, em geral familiares, a um destes três grupos. É neste contexto que ocorre Canudos.
E é esta a história de toda Primeira República: quase quarenta anos de constantes convulsões, de constantes revoltas populares sangrentas, levantes contra um Estado que não conseguia compreender seu povo senão por termos como ‘bestializados’. Canudos, entre 1893 e 97, e o Contestado, entre 1912 e 16, são as principais rebeliões populares. Há revoltas de militares de baixo escalão, como a Chibata, de 1910, e a dos Sargentos, em 1915. Há inúmeras greves, principalmente em São Paulo, organizadas quase sempre por anarquistas.
A história do Estado brasileiro é dividida, pelo cientista político Luiz Carlos Bresser-Pereira, em três fases. A Patrimonial, que vai da Independência até o final da Primeira República, seguida pelo Estado Burocrático e, por fim, a partir de 1995, o Estado Gerencial. Mas é no terço final da República pré-Getúlio que uma administração pública mais profissional começa de fato a ser formada. Estes primeiros funcionários públicos, os burocratas de Bresser, começam a deixar de ser simplesmente os indicados da elite e começam a organizar serviços públicos que de fato prestam serviços à população. É um processo tímido, no início, mas que dá forma, tanto entre civis quanto militares, a uma nova classe média urbana.
É a falta de espaço político para este funcionalismo público inicial que move a revolta Tenentista e leva Getúlio ao poder. Hábil, Getúlio trata de organizar o funcionalismo — assim como, também, os sindicatos de operários que tantas greves fizeram. Até hoje, a principal base de qualquer partido de esquerda no Brasil é esta. Funcionários públicos e sindicatos operários. Nos anos 1930 e 40, a organização destes dois grupos permitiu que o Estado começasse a se relacionar com a população. Para o poder, o povo deixou de ser uma gente ‘bestializada’.
Nesta última semana, corporações do funcionalismo público se mostraram o mais organizado grupo a pressionar contra a reforma da Previdência. Também nesta semana, Canudos é tema da Flip. Na história, ambos se tocam.
E FECHANDO COM AS MAIS CLICADAS DA SEMANA:
1. G1: Entenda ponto a ponto a proposta de reforma da previdência aprovada pela câmara.
2. G1: Foto do eclipse solar tirada pelo brasileiro Leo Caldas foi escolhida foto astronômica do dia pela Nasa.
3. Architectural Digest: A nova Galeria James Simon, do arquiteto britânico David Chipperfield, na Ilha dos Museus de Berlim.
4. Dwell: No Instagram, dez perfis para quem ama plantas e ideias criativas.
5. Spotify: This is João Gilberto, uma playlist do mestre.
Fonte: @Meio