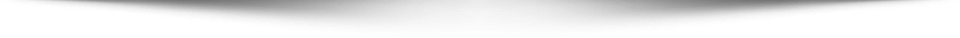O Caso Aldo Moro, para entender Battisti
Ao meio-dia e meio da terça, 9 de maio em 1978, o telefone do advogado Franco Tritto tocou. “Quem fala?”, ele perguntou já desconfiando. Tinha 27 anos, um homem não muito alto e dedicado católico, professor universitário, já com o início de uma calvície se insinuando. “Brigate Rosse”, respondeu-lhe a voz do outro lado. Brigadas Vermelhas. “Compreendeu?” Tritto disse que sim. “Ligamos para lhe informar o último desejo do presidente”, continuou a voz. “Ele gostaria que o senhor comunicasse à família do honorável Aldo Moro onde encontrar seu corpo.” A ligação foi gravada, um áudio que todo italiano já ouviu bem mais do que uma vez. “O honorável Aldo Moro está na via Caetani”, repetia pela segunda vez o pronome de tratamento formal. “Há um Renault 4 vermelho, lá, sua placa começa com N5.” Ele era muito próximo da família Moro, praticamente cria do velho político. As respostas do jovem advogado parecem vir em câmera lenta. “Devo telefonar para eles?” A voz do assassino, porém, é precisa, taquigráfica. “Não, deve ir pessoalmente.” Tritto falha. “Não posso.” Do outro lado, impaciência. “Não pode? Força, homem.” Ele ainda tenta, já soluçando. “Por favor, não.”
Emocionado como nunca sentira, Francesco Tritto cumpriria o difícil papel.
Esta última foi uma semana que se abriu com a deportação enfim, após 37 anos de fuga, de Cesare Battisti. No Brasil, assim como em boa parte da América Latina, ele é visto por muitos como um militante de esquerda que, durante os anos 1970, juntou-se à luta armada. Não pertenceu às Brigadas Vermelhas, que tinham uma estrutura rígida, mas à pequenina Proletários Armados pelo Comunismo. Os quatro assassinatos atribuídos a Battisti foram crimes locais — um agente penitenciário, um policial, e dois homens que resistiram a assaltos. O paralelo com as organizações que buscaram o mesmo caminho no Brasil é inevitável, e muitos o fazem. Mas há uma grande diferença. A Itália não vivia uma ditadura. Os grupos armados, na verdade, buscavam derrubar através de uma revolução a desestruturada democracia italiana. Por conta, durante mais de uma década, instauraram um período de terror batizado Anni di Piombo, os Anos de Chumbo. Um período que culminou com o assassinato de Aldo Moro. É um crime que, compreendido, bem explica a repulsa que os italianos — mesmo os de esquerda — têm pelos homens que, como Battisti, foram responsáveis pela brutalidade daquele tempo.
Na Itália, a luta armada foi para desestabilizar uma democracia e não foi pequena. Foi sangrenta.
Por um tempo na juventude, Aldo Moro quase se viu socialista. Benito Mussolini ainda governava e as atividades políticas do jovem jurista eram clandestinas. O que o segurou foi o catolicismo — e assim esteve entre os fundadores da Democracia Cristã e, por ela, foi um dos constituintes da Assembleia eleita em 1946. No período da Guerra Fria, em que a Itália se reinventava no pós-fascismo, Moro foi o político que por mais tempo ocupou o cargo de primeiro-ministro. Entre 1963 e 68 e, depois de um breve interregno, entre 1969 e 74. Era conhecido, principalmente, por sua incrível capacidade como negociador: um político paciente, capaz de costurar acordos por meses, às vezes anos.
Em seu período de governo, a Itália vinha mudando profundamente. Um país que deixava de ser agrícola para tornar-se industrial. Que vivia um boom econômico, prosperidade que trazia tensões. Em finais dos anos 1960, greves promovidas por sindicatos cada vez mais fortes eram declaradas a toda hora. A instabilidade social se refletia no parlamento, em conflitos contínuos e longos, quando esquerda e direita polarizados não conseguiam fazer acordos. Não é à toa que foi um político com o perfil de Moro que se manteve tanto tempo no comando, dando sobrevida à democracia. Mas foi neste cenário de instabilidade contínua que as Brigadas Vermelhas se formaram, convencidas de que democracia não teria como funcionar e a revolução comunista precisava ocorrer. Raptaram e mataram policiais, juízes e jornalistas. Não ficaram sozinhos: grupos paramilitares de direita, igualmente violentos, assumiram a oposição — e o confronto. Se no início a arte popular tratou os radicais com algum humor, na segunda metade dos anos 1970 o gosto era amargo e a violência se tornara uma marca cotidiana da política.
Mas enquanto os grupos armados se radicalizavam mais e mais, na política ocorria o contrário. Após o golpe militar contra Salvador Allende, no Chile, o presidente do Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, se convenceu de que era preciso apostar na democracia. Na eleição de 1976, os comunistas fizeram 34,4% do parlamento. Para mostrar boa fé, Berlinguer foi além, rompendo formalmente com Moscou. E assim Aldo Moro, que deixara o comando do governo, deu início de uma extensa negociação para formar um governo de aliança da Democracia Cristã com o PCI. Seria o Compromisso Histórico.
Não foi fácil negociar. Em meio à Guerra Fria, os EUA encaravam como uma derrota terrível ver comunistas no governo de um aliado ocidental. A União Soviética tampouco gostava da ideia — percebia, ali, a semente da perda de controle do comunismo na Europa. A experiência de independência do PCI precisava fracassar. E, no entanto, seguiam negociando os dois, Moro e Berlinguer. O ex-revolucionário e o estadista. Moro acreditava que o acordo poderia trazer paz e estabilidade, enfim, para a Itália. Que a Democracia Cristã conseguiria capturar uma parte dos eleitores que ainda pendiam para o fascismo enquanto o PCI enfraqueceria os grupos radicalizados.
A negociação ainda ocorria quando, em 16 de março de 1978, o comboio que levava Aldo Moro ao parlamento foi bloqueado por um Fiat diminuto. Passava pouco das 9h. Seus cinco seguranças deixam o carro perplexos, mas os terroristas já estão fora, e atirando. Vestidos com uniformes da Alitalia, outros aparecem na rua de surpresa. Igualmente armados. É uma emboscada — quatro dos homens caem ao chão e o quinto, ferido de morte, mal chegaria ao hospital. Os homens agarram Moro e o levam. Foram 55 dias de drama. Os brigadistas exigiram dinheiro, depois a soltura de companheiros presos. Enviaram fotos de Moro com jornais do dia, cartas manuscritas com pesadas críticas ao governo e apelos por sua vida. O governo italiano decidiu recusar negociação. Acreditava que, caso cedesse, teria início uma onda de sequestros de figuras importantes, ampliando ainda mais a espiral de violência. O papa Paulo VI em pessoa se ofereceu para tomar o lugar de Moro, de quem era amigo pessoal.
Um dia os sequestradores avisaram il’onorevole Aldo Moro que ele voltaria para casa, que deveria entrar na mala de um carro e se cobrir com uma manta para a transferência. Moro o fez. Foi fuzilado.
Cesare Battisti conta que a forte repressão ao terror político após o crime o convenceu a deixar o movimento. Não foi o único. Já havia matado quatro, de acordo com a Justiça. Os anos de chumbo ainda se arrastaram até princípios dos anos 1980, até os últimos envolvidos na luta armada serem presos.
Os italianos não esquecem. Há teorias conspiratórias (PDF) que sugerem participação dos EUA e da URSS, ciúmes de outros políticos, manobras de todo tipo. É uma cultura não diferente daquela nos arredores do assassinato de John Kennedy. Foi um período terrível.
Galeria: Os Anos de Chumbo italianos em fotografias.
Música: Bem no início, os italianos trataram com humor os radicais. Il Bombarolo, canção de Fabrizio de Andrè, narra a trova de um homem-bomba que se vê muito herói mas é só um desastrado. Com tradução para o português.
Filme: Il Caso Moro, lançado em 1986, narra a história do sequestro. O grande ator Gianmaria Volontè faz o papel do ex-primeiro ministro e logo as cenas iniciais reencenam o instante do sequestro. Está inteiro no YouTube, embora em italiano. O sistema de legendas com tradução automática funciona.
Panorama: A vida na Itália entre os anos 1970 e 80.
Enquanto milhões de pessoas em todo o mundo começaram a usar serviços como o 23andMe, em uma tentativa de entender de onde vieram, cientistas passaram a analisar o DNA antigo — que agora pode ser extraído de restos mortais que têm milhares ou até dezenas de milhares de anos — para perguntar e tentar responder questões ainda mais fundamentais sobre o nosso passado. E essa ciência florescente da paleogenômica já derrubou muitas de nossas suposições sobre os tempos pré-históricos. Durante décadas, acreditamos que as comunidades antigas tendiam a ficar em um só lugar, sem se misturar muito com os vizinhos. Mas aí cientistas surpreenderam quase todo mundo com a descoberta de que os humanos e os neandertais tinham se cruzado. Segundo os estudos, esses grupos se misturaram no processo de grandes e desconhecidas migrações. E isso pode ter implicações desestabilizadoras para alguns. Em Vanuatu, a alguns milhares de quilômetros a nordeste da Austrália, o posto nacional emitiu selos que comemoravam os primeiros colonos do lugar — e eles se assemelham muito aos habitantes modernos do país, um grupo indígena chamado ni-Vanuatu. Mas um trabalho recente com o antigo DNA da região sugeriu que os colonos originais eram, na verdade, descendentes distantes de um grupo de migrantes do leste da Ásia, que não se pareciam em nada com o grupo contemporâneo cujos ancestrais provavelmente chegaram muito mais tarde. Pois é. O país precisa agora reimaginar sua história de origem — e até seus selos. Na The New York Times Magazine, uma longa reportagem debate se a pesquisa de DNA antigo está revelando novas verdades ou caindo em velhas armadilhas. Uma matéria menor reúne ainda as cinco grandes descobertas dessa nova ciência.
Nos últimos dias foram publicados dois importantes estudos sobre o estado atual da indústria de Venture Capital. Aqueles investidores que financiam startups. Ambos são ricos em dados e cobrem os números do quarto trimestre de 2018.
O primeiro foi o Money Tree Report, feito em conjunto pela PwC com a consultoria CB Insights. Conta que, em 2018, VCs investiram US$ 99.5 bi em startups americanas. Um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Foram 5.536 operações, uma queda em relação às 5.824 de 2017. No ano, startups de Inteligência Artificial levantaram US$ 9.3 bilhões, Health Tech, US$ 8.6 bi, e Fintechs, pouco menos de US$ 11 bi. No mundo o relatório diz que foram mais de 14 mil operações com pouco mais de US$ 200 bilhões investidos.
O outro relatório é do Crunchbase, uma espécie de Wikipedia da indústria de Venture Capital. Por ser atualizado por meio de colaboradores, é um retrato mais extenso e mostra um investimento total no mundo de cerca de US$ 330 bilhões em quase 35 mil operações.
Contam mais ou menos a mesma história: Nos últimos anos aumentaram as operações maiores, em startups em estágio mais avançado, e reduziram-se os investimentos em estágios iniciais. Isso é um sintoma do boom dos mega-fundos, que precisam investir cada vez quantias maiores, e para isso buscam empresas mais maduras.
E por falar em mega-fundos, a Fast Company publicou um longo perfil de Masayoshi Son, o bilionário japonês da Softbank. Son foi um dos principais investidores no primeiro boom da Internet, na década de 1990. Quase quebrou com o estouro da bolha no início dos anos 2000, e deu a volta por cima ao buscar negócios na China. Terminou como um dos primeiros investidores no Alibaba, hoje gigante. Agora, Son está por trás do Vision Fund, um dos maiores do Vale. Seus investimentos são de no mínimo US$ 100 milhões, e desde o lançamento, em 2016, já distribuiu mais de US$ 70 bi. O foco é investir em indústrias que estão sendo radicalmente impactadas pela tecnologia: Mercado Imobiliário, onde a WeWork é seu maior investimento; Mobilidade (Uber e Didi Chuxing); e Comércio (Flipkart, maior varejista eletrônico da Índia, e Alibaba Local Services, na China).
Enquanto isso, cientistas de duas importantes escolas de negócio resolveram pesquisar se existe algum viés de investidores contra mulheres que fundam startups. Enviaram mais de 80 mil mensagens para mais de 28 mil homens de dinheiro. Metade simulando um fundador homem, a outra metade mulher. Ao menos para o primeiro contato, não foi observado nenhum preconceito. Na verdade as mulheres tiveram uma taxa de resposta levemente superior.
Mas a verdade é que existe, sim, preconceito na indústria. Assista a Dana Kantz, da Columbia Business School, explicando em um TED Talk porque isso ocorre.