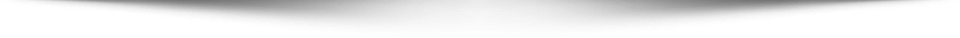Mudanças na indústria de games
Algo está mudando na indústria de games. Os ciclos de desenvolvimento de cada jogo eram longos e a eles se seguiam lançamentos estrondosos de cada nova versão para vender o máximo possível em poucos meses. Daí, retornava-se ao planejamento da próxima versão para ser lançada alguns anos depois. A estratégia agora é apostar em jogos freemium, mas não aquele antigo modelo em que só parte do game está liberado de graça e você precisa pagar para avançar. Alguns dos principais sucessos em faturamento hoje são jogos que podem ser jogados inteiro sem gastar um centavo. Por trás está estratégia baseada em psicologia comportamental, atraindo uma grande base de jogadores, e por meio de pequenos truques mentais, como mostra esse vídeo da Vox, convencer uma pequena parte deles a colocar dinheiro no jogo. Menos de 2% dos jogadores acabam gastando algo, mas é o suficiente para um jogo como Pokémon Go ter tido um faturamento estimado, em 2018, de US$ 795 milhões.
Para esse tipo de estratégia dar certo é preciso manter os jogadores engajados por longos períodos de tempo, por meses ou mesmo anos. É aí que começamos a ver a indústria de games se afastar do modelo do cinema e se aproximar da televisão. Cada vez mais os jogos são movidos a temporadas e eventos, uns com duração de algumas semanas e outros de poucas horas. Eventos não são novidade para quem joga Pokémon Go, ou mesmo o novo jogo Harry Potter: Wizards Unite (Android, iOS), que com uma semana de lançado já tem anunciado seu primeiro evento.
Assista: Simon Hade, CEO da produtora Space Ape explicar em um congresso de desenvolvedores de games como sua equipe organiza e opera eventos de forma a aumentar o faturamento de seus jogos.
Talvez nenhum game tenha atingido a sofisticação no uso de eventos virtuais como o Fortnite. Estruturado em temporadas de 10 semanas, com uma série de desafios para serem completados nesse período para ganhar bônus virtuais como roupas, danças e outros itens cosméticos que os jogadores exibem durante as batalhas. Quem compra um passe de US$ 10 para aquela temporada pode avançar de forma acelerada pelas missões. Em uma das temporadas, por exemplo, os jogadores foram surpreendidos por uma chuva de meteoros, que alterou toda a geografia do mapa do jogo. (YouTube). Mas certamente o maior de todos os eventos foi o show do DJ Marshmello, em uma pequena cidade de subúrbio no Noroeste de seu mapa, que chegou a ter 10 milhões de jogadores assistindo em certo momento (YouTube).
A verdade é que eventos dentro de jogos não são novidade, no final da década de 1990 o Ultima Online já promovia os seus. E não tem limite para a criatividade, como podemos ver nessa lista dos 10 eventos mais loucos dentro de games. Num primeiro de abril, todos os cavalos do Battlefield 1, game passado durante a Primeira Guerra Mundial, se transformaram em unicórnios falantes. Os jogadores adoram e as surpresas rendem.
Mas nem sempre os produtores do jogo estão por trás dos eventos. EVE Online é um super complexo game passado no espaço. Os produtores entregam para os usuários um universo cru, sem objetivos, como se fosse um caixa de areia em que os próprios gamers vão construindo suas histórias, criando narrativas, alianças e guerras. Em 2014, uma das maiores facções do jogo, conhecida como Clusterfuck Coalition, começou a se incomodar com movimentos de uma outra facção rival que estava se associando com um grupo de jogadores russos. Por algum deslize, essa facção rival esqueceu de pagar o aluguel de uma estação espacial em um canto remoto do universo. Um dos 3 comandantes de frota da Clusterfuck estava online quando percebeu o deslize e resolveu entrar e tomar a estação. Foi o início de uma imensa batalha, que durou mais de 22 horas, envolveu uns tantos dez mil jogadores espalhados por todo o mundo. Ao final da batalha mais de mil naves dos dois lados tinham sido destruídas. Convertendo os valores de dinheiro do jogo para dinheiro de verdade, em menos de um dia, as duas facções juntas perderam mais de US$ 300 mil.
Foi tão épica que dela nasceu um mini-documentário de 3 minutos. A Batalha de B-R5RB.
Um jornal livre, sem patrões ‘enchendo o saco’, em que os colaboradores escrevessem o que quisessem. No Brasil de cinquenta anos atrás, marcado por desaparecimentos, prisões e torturas, algo impensável. A ideia de criar O Pasquim surgiu em setembro de 1968, quando morreu Stanislaw Ponte Preta, o Sérgio Porto, responsável pelo tabloide de humor A Carapuça. Murilo Reis e Altair Ramos, os empresários por trás do semanário humorístico, buscaram um substituto à altura: Tarso de Castro. E foi no bar Jangadeiros, em Ipanema, segundo consta, que Tarso se encontrou com Jaguar para decidir se aceitava o convite. Ouviu que era melhor abrir um novo jornal e topou; desde que tivesse autonomia. E a redação se fixou em uma sala da distribuidora da imprensa, na rua do Resende, 100, no centro do Rio. “Três mesas com máquinas de escrever, a prancheta do Prósperi, um estoque de uísque e estávamos prontos para ganhar a rua”, lembra Jaguar.
O nome, que significa jornal difamador, folheto injurioso, foi aceito sem muito entusiasmo. Era de se esperar. Parte da imprensa já estava sob censura e a expectativa era a pior possível. Millôr Fernandes, cinco anos antes, fizera uma experiência de jornal independente, o Pif Paf, que só durara oito números. O Cartum JS, suplemento de humor criado por Ziraldo para o Jornal dos Sports em 1967, também acabara. Jaguar queria apenas cinco mil exemplares, mas a tiragem inicial foi de 14 mil. A edição esgotou-se em dois dias e mais 14 mil exemplares foram rodados.
Os 50 são os novos 30? Criado no dia 26 de junho de 1969, durante os Anos de Chumbo, o semanário funcionou até 1991. O jornal, que usava o deboche como arma política contra o autoritarismo, foi digitalizado pela Biblioteca Nacional e poderá ser acessado em sua Hemeroteca a partir de agosto.
Cássio Loredano, no auge da publicação, em 1972:
“Qual a atitude do burro diante da catedral? Eu via o Ziraldo, o Ivan Lessa, o magnífico Fortuna e a sacristã Nelma receber as epístolas do [Paulo] Francis, de Nova York. Até a chegada, para desespero do Henfil, do sumo sacerdote. Millôr fazia o trabalho no estúdio de Ipanema e só ia à Redação para encantar todo mundo com homilias e sermões que atrasavam barbaramente o envio das escrituras à oficina”.
AS CARTAS…
De: PAULISTINHA NÚBIL
Vocês aí precisam melhorar. Está muito ruim. Muito ruim mesmo. Uma coisa: onde é que eu poderia comprar o LP “La Solitude” do Léo Ferre?
R: Você é que precisa melhorar, minha filha. Até atingir nosso nível. O fenômeno é comum, não se perturbe. Ferre? Pois não, tome nota: Raoul Vidal, Disquaire, Place St. Germain-des-Prés, Paris Viu. Fala com o Jean-Louis, diz que a gente mandou. Talvez haja desconto.
The deboche never ends. A BN possuía, em seu acervo, 602 edições da revista. As outras 470 foram cedidas para o setor de digitalização pelo cartunista Ziraldo, que participava da equipe do Pasquim, e pela Associação Brasileira de Imprensa. As coletâneas foram publicadas pela Nova Fronteira.
Leila Diniz. A marcante entrevista foi recriada na série As Grandes Entrevistas do Pasquim, que dramatizou reportagens do seminário. Considerada um marco do jornalismo brasileiro, a prosa chocou o público e gerou uma lei de censura prévia do conteúdo nos jornais.
A NOVA REINVENÇÃO, E AS VELHAS REINVENÇÕES, DO PARTIDO DEMOCRATA
É uma ironia histórica. Mas o mesmo partido que elegeu o primeiro presidente negro, nos EUA, é também o partido que nasceu para defender a escravidão. Neste momento, 25 políticos disputam a candidatura Democrata à Casa Branca. A missão do vencedor, que será conhecido em algum momento do primeiro semestre de 2020, é enfrentar a nova direita nacionalista representada por Donald Trump. Esta é a primeira de muitas edições de Sábado que o Meio dedicará ao pleito americano. Ocorre que nas primárias do Partido Democrata há três ideias de esquerda em disputa — e, de certa forma, estas três ideias de esquerda estão em disputa no mundo todo. Para chegar até lá, no entanto, antes é preciso compreender como se formou — e como se transformou — este que é o partido político mais longevo da história das democracias. Um partido, aliás, que estava ali no nascimento do que chamamos democracia. E esta história começa numa noite de junho, em Nova York.
O ano, 1790. George Washington havia sido empossado presidente apenas um ano antes. E, embora com a posse a Constituição recém-escrita tivesse entrado em vigor, ainda havia muito por resolver. Os debates políticos daquela década eram selvagens — embora, na ausência de redes sociais, se dessem nas páginas dos muitos jornais em circulação. Aqueles homens que pensaram ali como erguer a primeira república moderna cogitaram cria-la sem partidos. Partidos, raciocinavam, alimentariam o dissenso. Mas partidos se mostravam inevitáveis — as diferenças de opinião não eram pequenas. E dois homens representavam as duas principais correntes. Naquela noite, 20 de junho, os dois se encontraram na casa que um deles alugara na cidade que, por ser a mais rica do país, abrigou provisoriamente o governo.
Thomas Jefferson era um homem louro e muito alto, olhos azuis, um gentleman da elite, dedicado aos livros e dono de terras na Virgínia. Nobreza da terra. Alexander Hamilton era também muito lido — e só isto tinham em comum. Era moreno de pele e de estatura baixa. O marido de sua mãe não era seu pai, e dela divorciou-se acusando-a dos piores termos. Um self-made man à moda do Norte americano. Cada um tinha uma ideia muito clara, consigo, sobre o que deveria ser o país. E eram incompatíveis. Hamilton queria um governo com comando sobre todas as 13 colônias, agora estados, com moeda única regida por um banco central. Jefferson, não, imaginava um país formado por muitos estados, todos com bastante autonomia um sobre o outro. Repúblicas — no molde das repúblicas italianas da Renascença — com um governo central de mão muito leve. Hamilton queria uma federação. E assim nasceu o sistema bipartidário americano com os Democratas Republicanos de um lado e os Federalistas, do outro.
O tamanho deste Estado central ainda não estava definido quando os dois se encontraram na casa que Jefferson alugou pagando em moedas de Nova York. Nas semanas anteriores, ambos já haviam tido muitas conversas com gente ligada ao outro. O tema estava encaminhado e chegaram dispostos a virar aquela noite até chegar a um acordo. À mesa estava o seguinte problema: cada estado havia acumulado uma dívida para financiar a guerra revolucionária. Hamilton desejava que o governo federal assumisse a conta. Como princípio, parecia justo. Foi para a formação daqueles Estados Unidos que se fizeram a guerra. Para financiá-la, no entanto, o governo central teria de emitir títulos da dívida pública que gente rica poderia pagar em troca de se tornar sócio no grande experimento que era inventar uma democracia. Mas isto envolvia unificar a moeda, criar uma autoridade financeira central, o que no fim queria dizer um governo com mais poder. Jefferson cedeu — mas não sem condições. Em troca, a capital não ficaria num centro metropolitano ou financeiro — Filadélfia ou Nova York — como se imaginara até ali. A capital seria no Sul, entre os estados da Virgínia e Maryland, à beira do rio Potomac. A futura Washington City.
Jefferson tinha razões para temer um governo central com autoridade demais que iam além da nova ideologia baseada em liberdade. As fazendas do Sul eram movidas a mão de obra escrava. Já havia tido briga, no período em que escreveram a Constituição, com a gente do Norte querendo a abolição. A capital no meio da parte escravista do país seria mais fácil de controlar. O argumento da liberdade dos estados foi construído para negar aos escravos liberdade.
O partido Democrata Republicano chegou ao governo pela primeira vez com Thomas Jefferson, seu fundador e terceiro presidente. Em 1828 houve um racha — e os jeffersonianos rebatizaram sua facção, a maior, de Partido Democrata. Entre 1800 e 1841, todos os presidentes pertenceram à legenda.
Com a eleição de Abraham Lincoln, em 1860, foi o país que rachou. Lincoln pertencia ao recém-fundado Partido Republicano, cuja principal pauta era a abolição. Foram cinco anos de guerra civil — e só em 1884 que os Democratas voltariam à Casa Branca. Ainda era, essencialmente, aquele partido ancorado no Sul. Faltavam as três ondas distintas, no século 20, que mudariam isso.
Teddy e Franklin
A primeira foi outro racha — este, no Partido Republicano. O período entre 1896 e 1916 é chamado, nos EUA, de a Era Progressista. Foi uma época marcada por legislação trabalhista, processos antitruste, surgimento simultâneo dos movimentos feminista e sufragista, e uma grande onda migratória de gente pobre vinda de toda a Europa. Nenhum presidente a simboliza mais do que Theodore Roosevelt, que governou por dois mandatos, entre 1901 e 09. Pois, em 1912, Roosevelt quis voltar à Casa Branca, só que perdeu a convenção. Não se conformando, deixou os Republicanos para fundar uma nova legenda — o Partido Progressista. Saiu candidato e, com o eleitorado republicano dividido, os Democratas levaram fácil. O Partido Progressista jamais se consolidou. Quando se desmanchou em fins da Primeira Guerra, seus membros se afiliaram ao Partido Democrata.
Foi assim, pelo capricho de um líder político, que o conjunto mais à esquerda do Partido Republicano, num período de dez anos, migrou para o Democrata.
Continuavam, porém, os Democratas, fundamentalmente ancorados no Sul. Foram muitos políticos progressistas para a legenda, mas não tantos eleitores. Até vir o segundo Roosevelt. Franklin.
Teddy Roosevelt tinha 1,72m e 90kg. Era um homem imponente, forte, atlético. Seu pescoço, grosso, e o bigode, espesso. Embora míope — usava um pince-nez à moda do tempo —, lutava box e gostava de aventuras. Sua expedição pela Amazônia acompanhado do Marechal Rondon lhe impressionou tanto que fez dela um livro. De certa feita, enquanto caçava, quase matou um urso enorme — mas não o fez quando percebeu que era uma mãe e que tinha consigo um filhote. O ursinho de pelúcia, brinquedo que se tornava popular naquele princípio de século 20, foi batizado Teddy Bear, em inglês, por conta desta história e também porque Theodore lembrava, ele próprio, um urso. Foi o primeiro presidente americano a ser tratado, pela imprensa, com a informalidade das iniciais — TR. Ele era informal.
Seu primo em quinto grau, Franklin Delano Roosevelt — ou FDR — era um homem fisicamente frágil. A mulher com quem casou, Eleanor, era sobrinha de Teddy. E foi TR quem a levou até o altar no dia do casamento. Boa parte dos americanos jamais soube que Franklin andava numa cadeira de rodas. Ele conseguia levantar — mas só com muito esforço. Já era casado quando foi tomado pela Síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que lhe deixou paralítico. Por sorte, seus médicos erraram o diagnóstico — acharam que era poliomielite. Sorte, pois é. Por conta, já presidente, criou a fundação que levaria ao desenvolvimento da vacina de pólio.
Foi eleito quatro vezes presidente, todas seguidas, e ocupou o cargo entre 1933 e sua morte, no início de 1945. Com apoio do economista britânico John Maynard Keynes, fez nos EUA o que nenhum país europeu conseguiu fazer mantendo a democracia: venceu a Grande Depressão. E na sequência — com a ajuda de britânicos e soviéticos — venceu também a Segunda Guerra.
Roosevelt adotou uma vertente do Liberalismo que nascera no Reino Unido umas décadas antes. Em Londres a chamavam New Liberalism. Na Alemanha, Liberalismo de Esquerda. E, nos EUA, Social Liberalism. Mantendo os preceitos liberais de liberdade — do mercado e das pessoas —, propunha, porém, um Estado mais ativo na correção dos males sociais provocados pelo capitalismo. Até hoje os americanos chamam os democratas de liberals. O resultado de suas políticas sociais, o New Deal, foi trazer para o Partido Democrata os imigrantes europeus e seus filhos que vinham chegando ao país. E, assim, criou para sua legenda um eleitorado relevante também no Norte.
Os Democratas ainda eram, ali, o partido da elite do Sul. O partido da Ku Klux Klan. Ainda havia veteranos da Guerra Civil vivos, sua memória estava presente. E a elite do Norte seguia Republicana. Mas entre TR e FDR um pensar da esquerda liberal e uma base popular branca se formou.
Faltavam os negros.
Jack, Bobby e Lyndon
Foram JFK e LBJ. John Fitzgerald Kennedy era rico, era do Norte, mas era irlandês. E ser de família imigrante no Massachussetts, onde a elite se orgulha de seu passado de peregrinos puritanos, os primeiros ingleses a chegar nas Américas, ser católico neto de irlandês nato o exclui da alta sociedade. Ser novo rico não basta. Seu pai passou a vida tentando pertencer — e, nos planos, incluiu ter um filho presidente. John, ou Jack, sofria de uma dor crônica na coluna que disfarçava para manter a aparência jovial. Falava com uma voz anasalada e o inconfundível sotaque da elite de Boston e, principalmente, era jovem. 43 anos, óculos escuros — Ray-Ban Wayferers — tinha a cara da década de 1960 que entrava. Não tinha nada do velho presidente que saía, Dwight Eisenhower. Era jovem como jovem seu principal conselheiro, o homem que comandou cada uma de suas campanhas desde a primeira, apenas 13 anos antes, para deputado federal. Seu irmão, Robert. Ou Bobby.
Mas para conseguir a vitória eleitoral, precisava de um pé mais sólido no Sul. Lyndon Baines Johnson não tinha nada de Jack Kennedy. Quase dez anos mais velho, um texano criado pobre que viu a adolescência salva pelo New Deal de FDR. Quando Jack chegou ao Parlamento pela primeira vez, Lyndon já era líder do governo no Senado. Um parlamentar nato, mestre negociador, capaz de arrancar de qualquer um apoio ou acordo. Fazia o que apelidaram the Johnson treatment, e inúmeras fotografias o mostram. Usava sua altura imponente — 1,92m — e a magreza rara que o delineava para ir se inclinando sobre quem conversava, ocupando o espaço, se impondo fisicamente, coisa que ocorria com tanta discrição e tão lentamente que o interlocutor sequer o percebia até já estar dominado. E ceder.
Não se davam e não tinham nada a ver, um com o outro. Mas LBJ foi vice de JFK para garantir a eleição e o sucedeu após o trágico assassinato, naquela tarde em Dallas de 1963. Juntos os dois, com Bobby empurrando, posto que foi o idealizador do processo, forçaram a integração racial do Sul. Obrigaram o fim de banheiros separados por cor de pele, lugares exclusivos em ônibus, forçaram escolas públicas mistas. Quando assinou o Ato dos Direitos Civis, em 1964, um melancólico LBJ se virou para seu secretário de imprensa e comentou. “Acabamos de perder o Sul por uma geração.”
Nos 24 anos seguintes, os EUA foram governados por Republicanos por 20 anos e pelos Democratas por quatro. Quatro anos, os de Jimmy Carter, que só ocorreram porque o escândalo de Watergate forçou Richard Nixon a renunciar de forma humilhante. Não fora isso e teria um quarto de século inteiro de Republicanos. O preço, que Johnson compreendia, era preciso pagar em troca do fim do Apartheid americano.
Em três momentos do século 20, assim se transformou o partido de Thomas Jefferson, nascido da defesa da escravidão para integrador dos negros na sociedade americana. O partido de Barack Obama.
E é este o partido que se aproxima da eleição de 2020. Sua marca é este social liberalismo fluido construído pelos dois Roosevelts, que oscila em suas preocupações com os tempos. Mesmo em seus momentos de maior ativismo estatal, suas políticas públicas sempre evitaram transferências diretas de dinheiro ao estilo de um Bolsa Família, preferindo ações para melhoria do sistema público de ensino, treinamento da força de trabalho, acesso a saúde, garantia de alimento. Foi o caso do projeto Great Society, que marcou o governo Johnson e se tornou símbolo de Estado inchado para Ronald Reagan. Era o caso, também, das propostas de Bobby Kennedy, quando se lançou à presidência em 1968 — ano de seu assassinato. Mas há também momentos em que o pêndulo caiu para o outro lado, caso do governo Bill Clinton, que embora também dedicado a políticas sociais, é mais lembrado pela desregulamentação do sistema financeiro.
Estes dois Partidos Democratas, como de certa forma lembrou o jornalista Guga Chacra numa coluna recente, estão representados no atual esquadrão de candidatos.
O senador Bernie Sanders, que se declara socialista, estaria ainda um ponto ou dois à esquerda de Johnson e Bobby. A sua é a esquerda radical de princípios dos anos 1970. O ex-vice-presidente Joe Biden, por outro lado, é o rosto da Terceira Via de Bill Clinton, Tony Blair ou mesmo Fernando Henrique Cardoso, a centro-esquerda de pegada liberal dos anos 1990.
Perante uma direita em transformação, que se distancia do liberalismo conservador de Ronald Reagan e Margaret Thatcher para se tornar mais nacionalista, mais populista, e traz em si ainda uma dose de autoritarismo, nos EUA — como na Europa — a esquerda busca também sua identidade. Deve fazer o retorno ao caminho do Estado grande que defendeu nos anos 1970 ou insistir na Terceira Via?
Em busca da nova esquerda
Na França e na Alemanha, entre as vitórias eleitorais do ‘centro radical’ de Emmanuel Macron e dos Verdes, há também pistas para um novo caminho. Está por aí espalhado em ideias diversas. No Vale do Silício, nomes como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Elon Musk propõem uma renda mínima universal, um dinheiro pago mensalmente a todo cidadão para compensar a onda de desemprego que, preveem, a automação digital está para trazer. Repasses diretos de dinheiro deixam de parecer pecado mortal. A jovem deputada-estrela Alexandria Ocasio-Cortez circula com o projeto de um New Deal Verde — um grande programa de incentivos para redirecionar a economia. Retrofit de grandes edifícios, repensar todas as fazendas, reorganizar o sistema de transporte público, erguer uma indústria competitiva de energia limpa, tudo com um único foco: reduzir emissões de carbono. E, no caminho, gerar muitos empregos. Keynes dos anos 1930 reimaginado nos 2020.
A primeira característica desta nova esquerda é a de colocar, no centro, preocupações do século 21 como Transformação Digital, Mudanças Climáticas e questões de gênero. Muitos dos pré-candidatos representam este novo pensar. Dentre tantos, duas mulheres, as senadoras Kamala Harris e Elizabeth Warren, disputam com Biden e Sanders a primeira colocação nas pesquisas.
Foi Harris que boa parte dos levantamentos apontaram como a principal vencedora do primeiro debate entre os pré-candidatos. Advogada, californiana, 54 anos. Seu pai é negro, jamaicano, e um celebrado professor-emérito de Economia na Universidade de Stanford. A mãe, que já morreu, era indiana, filha de diplomatas, médica e respeitada cientista voltada para o estudo do câncer, na Universidade de Berkeley. As credenciais acadêmicas de ambos, impecáveis. E a senadora, além de mulher, é o que nos EUA chamam multirracial — ainda um obstáculo para parte do eleitorado, justamente por ser cada vez mais comum na população geral.
A esquerda dos Democratas a critica por sua atuação como Procuradora-Geral da Califórnia. A acusam de ter sido leniente com violência policial e ter favorecido uma política excessivamente punitivista. Uma de suas principais preocupações está no desequilíbrio salarial. Quer diminuir a diferença de renda entre homens e mulheres e fazer com que os salários de professores se equivalham aos de outras profissões de formação equivalente. Defende uma versão dos projetos de renda mínima, assim como políticas de integração dos imigrantes no país.
São, todas, questões centrais dos debates que ocorrem neste momento na sociedade.
Aos 70 anos, Elizabeth Harris é mulher, e nunca houve uma presidente mulher. De resto é a cara da América tradicional — branca, anglo-saxã, protestante. Loura e de olhos azuis. Por isso mesmo, quando afirmou ter ascendência nativo-americana, foi recebida com descrédito e ironia. Um exame de DNA apontou de fato um antepassado indígena entre seis e dez gerações atrás. As ironias não diminuíram. Advogada de formação, professora por escolha, passou o naco final da carreira acadêmica em Harvard. Tenured, ou seja, com garantia de estabilidade no emprego, o topo da carreira. Especializou-se ali no encontro entre Economia e Direito, nas políticas regulatórias. Descobriu em sua pesquisa, por exemplo, que na origem de boa parte das decretações de falência individuais estava a decisão, por famílias de classe média, de se mudar para bairros caros onde as escolas públicas eram melhores. A decisão em nome dos filhos resultava em custos que não conseguiam arcar ao fim de alguns anos. Na academia americana, é considerada a maior autoridade em legislação de falência.
Warren se põe à esquerda de Harris. No centro de sua visão de mundo está a relação entre poder, dinheiro e corrupção. Desconfia por princípio de corporações muito grandes, no ciclo que leva acumulação de dinheiro a influência no poder. A dificuldade de lutar contra mudanças climáticas, por exemplo, estaria na excessiva influência das grandes companhias petroleiras nos governos do mundo, via doações eleitorais. Não é à toa que foi ela quem puxou o argumento de que é preciso intervir com leis antitruste nas gigantes do Vale do Silício. Mas se o seu é um discurso que em geral se encaixa muito fácil no discurso tradicional da esquerda demagógica, há uma diferença. Suas crenças são sustentadas por décadas de pesquisa e reconhecimento acadêmico ímpar. E, numa fase de concentração de renda e de consolidação das indústrias, seu discurso atrai — faz parte do espírito do tempo.
De certa forma, Elizabeth Warren oferece uma releitura, para o século 21, do Partido Democrata de TR e FDR. Kamala Harris é como o passo seguinte após Bill Clinton e Barack Obama. São as duas que disputam com Joe Biden e Bernie Sanders a imagem que este, o mais longevo partido das democracias contemporâneas, vai emanar nos próximos anos.
E PARA FECHAR, AS MAIS CLICADAS DA SEMANA:
1. NatGeo: Dois monges budistas sorrindo durante uma refeição em Kathmandu, Nepal.
2. Goodful: Quatro maneiras criativas de preparar ovos
3. G1: As regras de transição da reforma da previdência.
4. BBC: Por que o Japão decidiu voltar a caçar baleias apesar de proibição internacional.
5. Reuters: Fotos da semana no mundo
Fonte: @Meio